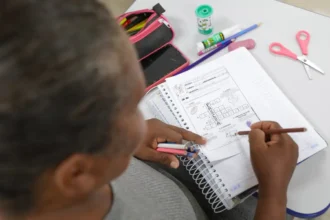Vários agentes públicos e particulares se tornaram réus por terem supostamente praticado crimes contra o Estado Democrático de Direito.
Logo teremos a conclusão dessas ações penais, cujo julgamento está marcado para iniciar em 02 de setembro próximo, que tramitam em altíssima velocidade jamais vista na Suprema Corte, que se notabilizou pela morosidade processual e a eclosão da prescrição em inúmeros casos pelo transcurso do tempo.
E, de acordo com a dogmática jurídica penal, houve de fato estes delitos?
Ao analisar o relatório da Polícia Federal, a denúncia oferecida, as alegações finais das partes, os votos proferidos para o recebimento da inicial e as notícias publicadas, despindo-me ao máximo da ideologia que marca a interpretação das normas jurídicas e de forma eminentemente técnica, sem nenhuma paixão, entendo que tais delitos não estão caracterizados.
Anoto, aliás, que para receber a denúncia bastam indícios suficientes de autoria e de prova da existência do crime (materialidade), isto é, na dúvida, a denúncia deve ser recebida. Nesta fase vigora o princípio do “in dubio pro societate”.
Por outro lado, para se condenar, há necessidade de certeza, acima de qualquer dúvida razoável. Na dúvida, o réu deve ser absolvido. Já que, nesta fase, vige o princípio do “in dubio pro reo”.
Para se chegar à verdade real dos fatos, norte de todo processo criminal, as provas repetíveis deverão ser reproduzidas em juízo, podendo as partes apresentar, ainda, outras provas lícitas para demonstrar sua tese, para, após o contraditório, observado o devido processo legal, ser proferida a decisão final pela Turma Julgadora.
Saliento que, na análise técnica que faço, parto do pressuposto de que não há nexo de causalidade entre as condutas imputadas a Bolsonaro e aos demais acusados com os atos de 8 de janeiro de 2023, limitando-me ao estudo dos atos precedentes, isto é, de que teria havido um plano golpista para impedir a posse do então presidente eleito (Lula) e de seu vice (Alckmin), bem como para o assassinato deles e de um ministro do STF.
Só com a vinculação dos acusados aos atos de 8 de janeiro é que haveria possibilidade técnica de se receber a denúncia, isso se demonstrado existirem indícios suficientes de que eles tenham de algum modo concorrido para aqueles delitos, seja planejando, mandando, instigando, induzindo ou os auxiliando indiretamente com seu financiamento, transporte, logística ou facilitação.
Evidente que para essa vinculação e eventual condenação dos acusados não bastam ilações, suposições, conjecturas ou presunções, mas provas fortes e convergentes, além de qualquer dúvida razoável, da participação naqueles delitos, com a imprescindível individualização da conduta de todos os envolvidos.
Por todos os ângulos que se examine a questão, tecnicamente, não ocorreu o crime de golpe de Estado e nem o de abolição violenta do estado democrático.
Vamos lá.
Não é infração penal imaginar, pensar ou combinar alguma coisa, mesmo que constitua crime, se não houver o início da execução de um delito (art. 31 do CP). Também não é crime preparar a realização do ilícito penal sem que haja o início de sua execução. Só haverá a tentativa se o sujeito iniciar a execução do crime, que não se consuma por circunstâncias alheias à sua vontade (art. 14, II, do CP).
A exceção é quando a lei expressamente punir os atos preparatórios, como ocorre com os crimes de associação e organização criminosa (art. 288 do CP e art. 2º da Lei 12.850/2013). No entanto, mesmo para estes delitos, há dois requisitos essenciais: a estabilidade e a permanência do grupo, isto é, que a reunião não seja para a prática de crimes momentâneos e determinados, mas para número indeterminado de delitos, e que os integrantes sejam os mesmos ou ao menos a maioria deles.
Meros pensamentos não são puníveis no âmbito penal nem aqui e nem em qualquer país democrático do mundo. Em nosso direito penal, constitui a primeira fase do “iter criminis” (caminho do crime), que são quatro: cogitação, preparação, execução e consumação.
Do mesmo modo, meras bravatas em ambiente privado, como “o fulano de tal merece um tiro na cabeça”; “só matando mesmo” e outras conversas idiotas análogas em que as pessoas nunca executariam o ato e falam simplesmente por falar, muitas vezes por desabafo, raiva, embriaguez ou para demonstrar total descontamento com algo ou alguém, são indiferentes penais por não haver sequer cogitação ou atos preparatórios, mas meros pensamentos desprovidos de qualquer lesão a bem jurídico.
Destarte, mesmo que alguém planeje a prática de um crime específico e pratique atos preparatórios, com ou sem parceiros, só haverá a punição se houver o início da execução dos elementos definidores do tipo penal. Assim, no crime de roubo, v.g., mesmo que os assaltantes planejem a execução do crime, adquiram equipamentos e se desloquem ao destino, se não ocorrer o início dos atos executórios do delito, com o ingresso na agência e ao menos o anúncio do assalto, com o emprego de grave ameaça ou violência contra pessoa, a conduta terá ficado nos atos preparatórios e não haverá crime.
E não é diferente nos crimes de golpe de Estado e abolição violenta do estado democrático. O simples pensar ou planejar o cometimento desses delitos sem o início de sua execução, que configura a tentativa exigida pelos tipos penais, é fato atípico penalmente.
Não se pune, portanto, o ajuste, a instigação, o induzimento e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, se não houver o início da execução do crime pelo autor (art. 31 do CP); do mesmo modo que, para a ocorrência da tentativa, é exigido o início da execução do delito (art. 14, II, do CP).
E quando se inicia a execução de um delito?
Há diversas correntes e a que prepondera é a que adota o critério objetivo ou formal. Para esse critério, somente haverá o princípio da execução do crime quando houver o início de uma conduta descrita no verbo do tipo penal. É um critério que parte de um enfoque objetivo ligado ao tipo, ou seja, o sujeito realiza parte do tipo penal para que possa haver o início da execução do delito. Esse critério é o adotado pelo nosso Código Penal, uma vez que somente poderá ocorrer tentativa quando houver atos idôneos que principiem a consumação de um delito previsto em nosso ordenamento jurídico. Assim, v.g., para haver o início da execução do crime de furto, o sujeito deverá começar a subtrair o bem.
Contudo, nada obstante esse critério tenha sido o adotado pelo Código Penal, deve ser complementado. É que em algumas situações há atos que não podem ser desvinculados da prática da conduta típica, embora não haja o início da execução do verbo do tipo. Tomemos por exemplo a situação do indivíduo que ingressa em uma residência para o fim de subtrair bens e é surpreendido pela polícia. Poderá ser-lhe imputada tentativa de furto se ele ainda não iniciou a subtração? Como, no caso, a invasão da residência não pode ser desvinculada do furto, houve o início da execução do crime patrimonial (furto) e ocorreu a tentativa punível.
Observo, aliás, que nos dois delitos contra o Estado Democrático de Direito imputados (golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático) há duas elementares essenciais, quais sejam, a violência contra a pessoa e a grave ameaça, que, sem uma delas ao menos, sequer existe a possibilidade do início da fase executória destes delitos por não ocorrer a perfeita adequação típica.
Malgrado iniciada a execução de um delito, a lei ainda dá uma oportunidade para que o agente se arrependa e desista de consumá-lo. Falo da desistência voluntária, instituto previsto no artigo 15 do Código Penal. Cuida-se de causa de exclusão da adequação típica, uma vez que a interrupção voluntária dos atos desfigura a tipicidade da tentativa em relação ao intuito inicialmente concebido. Assim, o agente será responsabilizado apenas pelos atos já praticados.
Dar-se-á a desistência voluntária quando o agente, já tendo iniciado a execução do delito, desiste por sua própria vontade de continuar com a mesma e consumar o delito. Para que haja esse instituto, é preciso que os atos executórios sejam iniciados e o agente voluntariamente os interrompa.
Não se faz necessário que a desistência seja espontânea, basta que seja voluntária. Desistência espontânea é aquela que a ideia de desistir parte do próprio agente; voluntária é a desistência sem coação física ou moral, mesmo que a ideia de desistir parta de outra pessoa ou mesmo de pedido da própria vítima.
Assim, p. ex., se o agente, querendo matar a vítima, atinge-a com o primeiro disparo e, vendo que ela não está mortalmente ferida, deixa de alvejá-la outras vezes, não responderá por tentativa de homicídio, mas pelos atos já praticados (lesões corporais), uma vez que ele podia continuar com a execução e não o fez. Igualmente, aquele que adentra a uma residência para subtrair o televisor, mas desiste voluntariamente de prosseguir com o furto, somente responderá pela invasão de domicílio.
No caso de desistir voluntariamente de consumar o delito e nada tiver ocorrido, isto é, ausente qualquer resultado naturalístico ou jurídico, não responderá por nenhum delito por falta de previsão legal.
Claro que se o agente desistiu de continuar a execução por circunstâncias alheias à sua vontade, como a chegada da polícia ou por ter sido visto por uma testemunha, cuida-se de crime tentado, anotando que há crimes que não admitem a tentativa, como os unissubsistentes (que se consumam com apenas um ato) e os crimes de atentado (a tentativa já leva à consumação do crime).
Portanto, a diferença entre a desistência voluntária e a tentativa pode ser resumida nos seguintes termos: na desistência voluntária o agente pode continuar com o crime, mas não quer; na tentativa, ele quer continuar com o crime, mas não pode.
Não obstante se trate de crime de atentado, que se consuma com a mera tentativa, não se exigindo a consumação material (resultado naturalístico), mas apenas a formal, que se dá com o início dos atos executórios do delito, a lei penal expressamente possibilita que o sujeito desista de alcançar o resultado concreto no mundo exterior, incentivando-o a desistir antes que algo de mais grave ocorra. Por isso, plenamente possível a desistência voluntária nos crimes de atentado.
Por fim, ocorrerá a consumação quando o fato em concreto praticado pelo agente se adequar perfeitamente a uma norma penal incriminadora (art. 14, I, do CP). É a última fase do processo delitivo. O agente imaginou o crime; preparou-o; executou-o e houve a consumação. Exemplo: o agente imagina o delito de homicídio, adquire a arma, aponta-a para o desafeto, aciona o gatilho e atinge o alvo, matando a vítima.
Com efeito, malgrado se idealize, comente e até mesmo planeje um golpe de Estado ou a abolição do estado democrático, v.g., se a conduta ficar apenas nos atos preparatórios, não havendo o início de sua execução, e só a cogitação e a preparação, não haverá este delito e nem outro qualquer, exceto se os atos preparatórios forem crime por si mesmos, como quando se adquire armas ou explosivos de forma ilegal, ou quando se constituiu uma organização ou associação criminosa, que, como já visto, exigem, além de outros elementos específicos, que a reunião seja para a prática de indeterminado número de crimes e que seus integrantes sejam os mesmos ou ao menos a maioria deles (estabilidade e permanência).
Punir-se a mera idealização do cometimento de um delito me faz lembrar a “crimideia” (“thinkpol”em novilíngua) e a polícia do pensamento na distopia 1984, de George Orwell. Punia-se o simples pensar, mediante vigilância constante, por todos os meios, para encontrar e eliminar membros da sociedade que simplesmente cogitavam (pensavam) em desafiar o sistema.
E especificamente quanto aos delitos de golpe de Estado e abolição violenta do estado democrático?
A questão é puramente dogmática e deve ser apreciada sem nenhuma ideologia, que marca a interpretação do exegeta e pode levar a equívocos hermenêuticos.
O tipo do artigo 359-M do Código Penal dispõe: “Tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído: Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos, além da pena correspondente à violência”.
Nesta conduta o agente pretende, com o emprego de violência contra a pessoa ou grave ameaça, derrubar o governo legitimamente constituído, que me parece ser o Executivo, aquele que efetivamente governa no regime presidencialista.
Não é exigida a deposição do governo, contentando-se a norma com a mera tentativa. Assim, ao empregar violência ou grave ameaça com o propósito de depor o governo legitimamente constituído, mesmo que isso não ocorra, o crime restará consumado. Como se trata de crime de atentado, punindo-se da mesma forma a consumação e a tentativa, não se faz possível o “conatus” (tentativa).
Destarte, não existe tentativa de tentativa de golpe de Estado. Ou há a tentativa, e o crime se consuma, ou não há, e não haverá este delito.
O verbo depor implica que o presidente já estivesse empossado e ocupando a presidência quando da conduta. Do contrário, não há deposição. Só se depõe quem já ocupa o cargo, isto é, está empossado.
Do mesmo modo, a norma também fala governo constituído. Não diz governo eleito ou diplomado. Constituído é aquele que já está em funcionamento. Ou seja, só se depõe quem ocupa o cargo de presidente com o governo em funcionamento (constituído).
Lembro que qualquer norma penal incriminadora deve ser interpretada restritivamente e não pode haver analogia contra o réu.
Também é elemento do tipo que tenha sido empregada para a deposição do governo a violência, que é a física contra a pessoa, ou ameaça, que deve ser grave.
Ao que consta, não houve nem violência à pessoa e nem grave ameaça, que são elementos objetivos do tipo sem os quais não haverá este delito.
Além do mais, o modo de execução do delito deve ter o potencial de levar à deposição do governo. Do contrário, se os meios empregados eram absolutamente ineficazes para a finalidade pretendida, haverá crime impossível (art. 17 do CP).
Por fim, como já afirmando, o verbo “tentar” implica o início dos atos executórios, não sendo puníveis as fases da cogitação e nem da preparação deste delito (art. 31 do CP). Se não houve o início dos atos de execução do golpe de Estado, não haverá este delito. Assim, o mero pensar (idealização) e os atos de planejamento não são puníveis no nosso direito, exceção feita se caracterizar crime em que se sanciona os atos preparatórios, como o delito de associação criminosa (art. 288 do CP).
Com o devido respeito aos que se posicionam de forma diversa, no meu entender, o delito de abolição violenta do estado democrático também não ocorreu e vou explicar o porquê de forma técnica.
Para tanto, analisarei objetivamente o tipo do artigo 359-L do Código Penal despindo-me ao máximo da ideologia que a todos impregna e sem nenhuma paixão, tão somente de acordo com a dogmática jurídica penal. Diz a norma: “Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais: Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, além da pena correspondente à violência”.
O verbo deste tipo penal é “tentar”, isto é, realizar a conduta para que advenha a abolição do Estado Democrático de Direito, mesmo que não o consiga. A norma não exige que isso ocorra, mas que a ação seja voltada para esta finalidade.
A ação deve ter por propósito abolir o Estado Democrático de Direito, o que se dá mediante o impedimento ou a restrição do exercício dos poderes constitucionais, quais sejam, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, com o emprego de violência ou grave ameaça, que são os modos de execução do delito.
Note-se, assim, que a conduta praticada deve ao menos ter o potencial de produzir o resultado pretendido, embora possa não ocorrer, uma vez que o verbo do tipo é “tentar abolir”. Com isso, malgrado não ocorra a abolição do Estado Democrático de Direito, o que dar-se-ia, em regra, com golpe de Estado ou revolução e a imposição de um regime totalitário, é exigido pela norma que um dos Poderes da República seja impedido ou ao menos tenha restringido o regular exercício de suas atribuições ou jurisdição.
Muito embora o ato seja odioso e, acaso consumado, deveria ser severamente punido, saliento que com o sequestro de um Ministro do STF nem se restringe e nem se impede o exercício do Poder Judiciário, não havendo a perfeita adequação desta conduta à norma penal em comento.
E nem Lula e nem Alckmin haviam sido empossados. Assim, seus assassinatos não poderiam levar ao impedimento ou a restrição do exercício dos poderes constitucionais, já que não exerciam nenhum deles. O mero pensar em ato desse tipo é repugnante, mas o direito penal não pune pensamentos e nem o planejamento sem o início da execução do delito. Assim, v.g, se a esposa encomenda a morte do marido, paga o pistoleiro, que apenas embolsa o dinheiro e nada faz, não há como punir a mandante por não ter sido iniciada a execução do homicídio. É o que deixa claro o artigo 31 do Código Penal, ao dispor que: “O ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado”.
Além do mais, para a adequação típica, deve ter havido violência à pessoa ou grave ameaça e que a conduta tivesse o potencial de colocar em risco o Estado Democrático de Direito, sendo essa a intenção do agente. E, pelo menos não se noticiou o contrário, não houve nem uma e nem outra conduta deste tipo (violência ou grave ameaça), que são os modos de execução deste delito.
Vou repetir para que fique bem claro. Só com o início da execução do delito é que podemos falar em tentativa. Não se pune nem a cogitação e nem a preparação do crime, exceção feita aos casos expressamente previstos em lei, como a associação criminosa (art. 288 do CPP). Assim, o mero pensar ou planejar o ato não é conduta que encontra adequação típica no tipo penal em comento e nem em outro qualquer que exija o início da execução do crime, como o suposto sequestro e homicídio de um ministro do STF que teria sido planejado.
Lembro, igualmente, que se os meios empregados não poderiam de forma nenhuma alcançar o resultado pretendido, não ocorrerá o crime de abolição violenta do estado democrático por se tratar de crime impossível (art. 17 do CP).
E mesmo que houvesse o início da execução do delito, se o agente desistisse voluntariamente dela, também responderia apenas pelos atos já praticados (art. 15 do CP). Se nada aconteceu, não responderia por nada.
Não sou eu que estou dizendo isso, mas a legislação, que é assim interpretada há décadas e não pode mudar de uma hora para a outra de acordo com quem consta da capa do processo ou do inquérito.
É importante ressaltar que, como já afirmado acima, para a condenação não bastam suposições, ilações, presunções e provas vagas, cheias de dúvidas fundadas, que são aquelas que não foram dissipadas, mesmo após o emprego de todos os métodos analíticos para sua intepretação. Exige-se prova além de qualquer dúvida razoável e que a conduta de cada acusado, que deve estar devidamente individualizada e provada, tenha relação causal com os atos de 8 de janeiro, isto é, foi necessária para a eclosão deles.
Anoto, ainda, que, na eventualidade de uma condenação, as penas deverão ser devidamente individualizadas de acordo com a culpabilidade de cada condenado.
A individualização da pena desenvolve-se em três etapas: a legislativa, a judicial e a executória.
Na primeira, caberá à lei fixar as penas que serão aplicadas para cada tipo penal. A quantidade da pena deve guardar proporção com a importância do bem jurídico tutelado e a gravidade da ofensa. Por isso, cada tipo penal prevê quantidade mínima e máxima de pena e, em alguns casos, espécies distintas de sanções penais, que podem ser aplicadas, dependendo do caso, alternativa ou cumulativamente.
Na etapa judiciária, caberá ao juiz, à vista da infração cometida, escolher a pena que será aplicada dentre as cominadas no tipo penal, dosar a sua quantidade entre o mínimo e máximo previsto, fazer inserir causas que possam aumentar ou diminuir a reprimenda, fixar o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, bem como analisar possível substituição por pena mais branda. Cuida-se de critério em que o julgador possui discricionariedade regrada. Isso porque, embora tenha liberdade de escolha quanto à pena que irá aplicar, bem como sua quantidade, deve obediência a regras previstas no Código Penal.
Por fim, após a aplicação da pena, há necessidade de sua execução. As diretrizes quanto à execução da pena estão previstas principalmente no Código Penal e na Lei de Execuções Penais.
Quero chamar a atenção para a individualização das penas entre os participantes do delito, que, em razão da maior ou menor culpabilidade, poderão ter penas diferenciadas, com fundamento no artigo 29 do Código Penal.
Diz a norma:
”Art. 29 – Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. § 1º – Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço. § 2º – Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste; essa pena será aumentada até metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave”.
Em princípio, devido à teoria unitária, todos os participantes de um crime sofrerão a mesma pena abstratamente considerada, segundo o grau de sua culpabilidade. A parte final do dispositivo, que foi introduzida pela reforma penal de 1984, deixa claro que o juiz poderá aplicar pena diferenciada para os participantes do delito, desde que a análise da culpabilidade deles assim o recomende.
O art. 29 do Código Penal é corolário do princípio da individualização da pena, que obriga o juiz a analisar uma série de circunstâncias antes de fixar a reprimenda. Portanto, v.g., em um homicídio praticado por várias pessoas, os coautores e partícipes poderão ter penas diversas estabelecidas de acordo com a culpabilidade de cada um.
O legislador decidiu que a pena do partícipe também deveria ser individualizada de acordo com o grau de sua participação. Assim, se a participação for de menor importância, a pena poderá ser diminuída de um sexto a um terço (art. 29, § 1º, do CP).
Ela deverá ser reconhecida quando a participação do agente tiver exercido pequena eficiência para a execução do crime. Essa diminuição será devido à menor contribuição causal. Assim, quanto maior for a contribuição do agente para a prática do crime, menor deverá ser a redução da pena e vice-versa. Trata-se de direito subjetivo do agente e, caso reconhecida a participação de menor importância na sentença, a redução da pena se torna obrigatória.
Além do mais, pode ocorrer que o autor principal pratique um crime mais grave do que o pretendido pelo partícipe, ensejando o desvio subjetivo entre os participantes (art. 29, § 2º, do CP). Nesse caso, o partícipe responderá pelo crime pretendido e o executor pelo crime mais grave ocorrido. Se o resultado mais grave for previsível ao partícipe, a pena pelo delito que lhe foi imputado será aumentada até a metade. Exemplo: João quer praticar um delito de furto e combina-o com Carlos. Este entra na casa, enquanto João fica dando cobertura. Porém, Carlos estupra a dona da casa, que lá estava por não ter ido viajar como pensavam os larápios e subtrai os bens com o emprego de violência. Assim, Carlos responderá por estupro e roubo e João por furto. Entretanto, se o resultado mais grave fosse previsível para João, sua pena pelo furto seria aumentada até a metade.
Com efeito, dosar a pena não é um critério automático e matemático. Depende de uma série de fatores e devem ser aplicadas várias regras, de acordo com o estipulado no artigo 68 do Código Penal (critério trifásico de fixação da pena), dentre elas a participação de menor importância e o desvio subjetivo entre os participantes, além de outras, que não vou aqui explicar para o texto não ficar muito extenso.
Enfim, os tipos penais, que tratam de condutas contra o Estado Democrático de Direito, contêm penas elevadíssimas e, por isso, devem ser muito bem analisados e empregados, a fim de que não constituam elemento de perseguição política e ideológica.