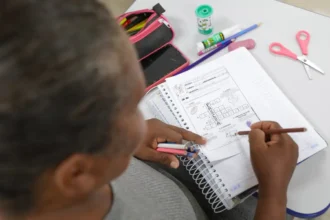Circula nas redes sociais notícia de que o Ministro André Mendonça seria relator de um Habeas Corpus em que se pede a concessão da ordem para que seja anulada a colaboração premiada de Mauro Cid.
Só que há um problema processual. É que, segundo jurisprudência da Excelsa Corte, não é possível a impetração de Habeas Corpus contra decisão monocrática de outro ministro, sendo o recurso adequado o agravo regimental ou agravo interno.
Além do mais, já houve decisão a esse respeito pela 1ª Turma e a aludida colaboração premiada, até o presente momento, foi tida como legal, o que, com o devido respeito, longe está de ser a realidade técnica/jurídica.
E vou dizer o porquê deste meu posicionamento.
A função do magistrado na colaboração premiada é a de fiscalizar a legalidade, regularidade e voluntariedade do acordo, isto é, se os requisitos permissivos foram preenchidos para sua homologação.
O Magistrado não participará das negociações para a formalização do acordo de colaboração premiada, a fim de não ser comprometida sua imparcialidade. Mas, para que a colaboração possa produzir seus efeitos jurídicos, deverá ser homologada pelo Poder Judiciário.
O principal requisito do acordo é a voluntariedade, que nada mais é do que a vontade efetiva de realizar a colaboração premiada.
Por isso, o magistrado ouve o colaborador na presença de seu advogado para perquirir se o acordo é voluntário ou se houve algum tipo de coerção.
Não é dado ao magistrado interferir no acordo, exceto para verificar sua legalidade e regularidade formal. Os termos do acordo são elaborados entre a defesa, o Ministério Público e/ou delegado de polícia.
Não pode o magistrado ouvir o colaborador na fase investigativa para produzir prova contra ou para favorecer alguém, haja vista o sistema acusatório de processo vedar esse proceder.
Por esse sistema existe nítida divisão entre o órgão acusador e o julgador. Enquanto a acusação é, em regra, formulada por um órgão estatal (Ministério Público), o poder Judiciário é o responsável pela aplicação da lei e a solução dos conflitos entre o Estado e o particular. As partes estão em igualdade de condições, sobrepondo-se a elas, como órgão imparcial de aplicação da lei, o Juiz. Como corolário lógico desse sistema, vigoram os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ( CF, art. 5º, LIV e LV), além das garantias da tutela jurisdicional (art. 5º, XXXV), do acesso à Justiça (art. 5º, LXXIV), do Juiz natural (art. 5º, XXXVII e LIII) e do tratamento paritário das partes (art. 5º, caput, e I), estando vedado ao Juízo instaurar ação penal de ofício (“ne procedat judex ex officio”) e investigar na fase pré-processual, usurpando a função da polícia judiciária (art. 144 da CF) e do Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública (art. 129, I, da CF), que também possui o poder investigatório criminal, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em duas oportunidades.
A figura do juiz investigador não é conhecida no direito brasileiro, o que, aliás, é regra expressa prevista no artigo 3º-A do Código de Processo Penal, que diz: “O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação”.
Tal regra foi mitigada pelo STF apenas no que tange à fase processual em que o magistrado poderá determinar a produção de provas supletivamente às partes para formar sua convicção, nada mudando no que é pertinente à fase investigativa em que está processualmente impedido de investigar para que possa manter sua imparcialidade.
Como já afirmado, não existe em nosso sistema constitucional e processual a figura do juiz investigador como na França. Mas, mesmo lá, o magistrado que investigou não vai atuar na fase processual, a fim de que o julgador não seja contaminado pela paixão, o que comumente ocorre quando investiga. Por isso, outro magistrado julgará o caso para que seja mantida a imparcialidade, necessária em qualquer julgamento para ser realizada a verdadeira justiça.
O investigado não pode ser constrangido, mediante violência ou grave ameaça, a realizar o acordo de colaboração premiada para confessar, que é um dos elementos essenciais do instituto, e tampouco para fornecer informações ou delatar outras pessoas.
Anoto que a grave ameaça pode ser justa ou injusta, pouco importa. Não é dado, por exemplo, ameaçar de prisão o colaborador ou pessoas a ele ligadas por laços de afeição ou de parentesco. Mesmo que seja juridicamente possível prender o colaborador ou mantê-lo preso, tal fato não pode ser empregado para forçar o acordo, que deve ser realizado de forma voluntária.
Note-se que a colaboração não necessita ser espontânea, contentando-se a norma com a sua voluntariedade. Assim, mesmo que a ideia de colaborar parta de outra pessoa, ou mesmo de pedido ou sugestão da autoridade, poderá o colaborador ser merecedor do benefício. Entretanto, uma coisa é o pedido ou solicitação e outra muito diferente é a ameaça para realizar o acordo.
O direito não admite chantagens indevidas para a obtenção de provas, o que pode, inclusive, caracterizar crime de tortura previsto na Lei de nº 9.455/1997, que, no seu artigo 1º, inciso I, alínea “a”, diz: “Art. 1º Constitui crime de tortura: I – constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental: a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa;”, cuja pena é de dois a oito anos de reclusão, sendo considerado delito hediondo, com severas consequências no âmbito penal e processual penal.
A grave ameaça consiste no prenúncio de mal atual ou futuro e grave. Pode ser da produção de dano ou de perigo e endereçada à própria vítima (ameaça direta) ou a pessoa a ela ligada por laços de parentesco ou de amizade (ameaça indireta). Diferentemente do crime de ameaça (art. 147 do CP), o mal prenunciado pelo agente não necessita ser injusto para caracterizar essa modalidade de tortura. É possível a ocorrência do delito mesmo sendo o mal prenunciado justo, quando a pretensão do agente ou a forma de obtê-la é injusta.
A violência a que alude a norma é a física e contra a pessoa, sendo a mais comum as agressões com as mãos ou outros instrumentos. Também pode ocorrer a tortura física com interrogatórios ininterruptos, mediante afogamentos, luz cegante, dentre outros meios.
Em decorrência do constrangimento e dos modos de execução empregados (violência ou grave ameaça), deve advir à vítima da tortura sofrimento físico (tortura física) ou mental (tortura psicológica).
Não há necessidade de que a vítima ceda às pressões, mas que ocorra o constrangimento, com o emprego de violência física ou grave ameaça, para o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa (crime formal), ensejando seu sofrimento físico ou psicológico (mental).
Vejam a gravidade de um acordo de colaboração premiado forçado para perseguir alguém ou para obter provas a todo custo, impondo ao investigado sofrimento físico ou mental, mediante o emprego de violência física contra ele ou grave ameaça contra si (ameaça direta) ou terceira pessoa (ameaça indireta).
Colaboração premiada que não observe os requisitos legais, notadamente a voluntariedade, é manifestamente ilícita e, por isso, não pode ser empregada processualmente, e todas as provas dela resultantes são contaminadas pela ilicitude original (teoria dos frutos da árvore envenenada), nos termos do § 1º, do artigo 157 do Código de Processo Penal.
Com efeito, no campo do direito material, o constrangimento, com o emprego de violência ou grave ameaça, que cause sofrimento físico ou mental ao colaborador, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, é crime de tortura, além de crime de abuso de autoridade previsto no artigo 25 da Lei nº 13.869/2019, por ter sido a prova obtida por meio manifestamente ilícito e ainda empregada contra o investigado e outras pessoas em procedimento investigatório, mesmo sabedores de sua ilegalidade. Já no campo processual, o acordo de colaboração é absolutamente ilícito por não ter sido realizado com a necessária voluntariedade, contaminando todas as provas dele decorrentes.
Sem contar, ainda, que a credibilidade do depoimento do colaborador, que delata alguém após ser gravemente ameaçado ou agredido para fazê-lo, é quase zero, uma vez que mediante tortura física ou psicológica a pessoa confessa e diz qualquer coisa para que o ato cesse.
Enfim, em direito os fins não podem justificar os meios e os princípios e regras constitucionais e legais devem ser sempre observados, sob pena do perecimento da prova e até mesmo a prática de ilícito penal.
Quer saber mais, vide:
https://www.jusbrasil.com.br/artigos/colaboracao-premiada-e-a-voluntariedade/3080915611
Autor: César Dario Mariano da Silva – Procurador de Justiça – MPSP. Mestre em Direito das Relações Sociais – PUC/SP. Especialista em Direito Penal – ESMP/SP. Professor e palestrante. Autor de diversas obras jurídicas, dentre elas: Comentários à Lei de Execução Penal, Manual de Direito Penal, Lei de Drogas Comentada, Estatuto do Desarmamento, Provas Ilícitas e Tutela Penal da Intimidade, publicadas pela Editora Juruá.